
Para alguém, como eu, que possui uma posição abertamente iconoclasta em relação à crítica musical (perda de tempo e de autonomia na minha modesta opinião – acho que as pessoas devem criar os critérios elas mesmas!), para alguém assim listas não deveriam, de fato, fazer sentido ou importar.
Para mim, no entanto, elas importam, pois acho que elas podem representar não uma tentativa de crítica dogmática (dizer para as pessoas o que elas devem ouvir e o que elas não devem), mas de uma espécie de celebração da música ela mesma, do prazer que dela vem. Não importa se a lista é aceita por todos ou não, importa os olhos do ouvinte em sua vivência da música.
Então defendo listas como, em primeiro lugar, como uma celebração do prazer (e um tanto do saber!) da música, esta que é uma celebração da reiteração (anual, a cada década neste caso) daquilo que gostamos, como a celebração de uma nova safra! Ok, não temos mais Beatles e Schubert, mas temos Rufus Wainwright,Michael Penn, temos o velho de volta com uma nova face (como os espíritos dos natais do conto de Dickens…agora do filme de Jim Carrey!).
Então fica aqui a minha lista dos dez melhores discos da década, bem mais sucinta que a do dono deste espaço, mas escrita com igual alegria (e igual tristeza em deixar muita música boa de lado!):

Para mim Smile é, sem dúvida, o melhor disco da década (em sua maravilhosa reconstrução quase quarenta anos depois de sua composição), pois ele funde duas faces e duas potencias musicais que me dizem muito respeito: As grandes canções, o grande poder melódico e o senso harmônico, que todos conhecem em Brian Wilson e a imaginação fértil, a erudição, sempre “sui generis”, de Van Dyke Parks.
A inocência e o esmero musical do compositor de Pet Sounds , ganha potência sob os arranjos nostálgicos, fantasiosos, dramáticos e cômicos de Van Dyke. As grandes canções de Brian são banhadas ainda pelas letras sem par de Van Dyke. Qual o equivalente poético para a ingenuidade erudita de ‘Heroes and Villains’ ou ‘Barnyard’, para o non-sense de ‘Vegetables’? Edward Lear encontra Robert Frost?
Gozado é que, como todos sabem, Smile é como uma espécie de Frankenstein, as peças foram surgindo aos poucos, isoladas umas das outras. Isto poderia resultar em um álbum sem um percurso, uma coleção de peças exótica. Mas não é ocaso, a atmosfera de meditação infantil, de meditação maravilhada diante do mundo, percorre o play inteiro e costura perfeitamente nosso Frankenstein!
Smile nos oferece um universo musical maravilhoso e distinto; universo cuja chave é de fácil acesso…é este universo, esta aura, este “discurso profundo”, que só encontramos em um Bach ou Beethoven transformado em música pop, em música para os sentidos, mais do que para o intelecto, é o que faz para mim de Smile melhor álbum da década, e, talvez, o melhor álbum da música pop!
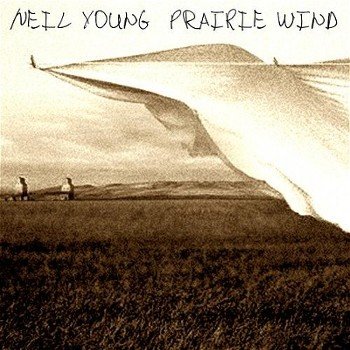
Neil Young é conhecido ,tal qual David Bowie, por seu potencial camaleônico. A diferença é que Young sempre preferiu a sobriedade ao espetáculo.
Neste Prairie Wind , de 2005 , Young em homenagem ao pai falecido, volta com uma nostalgia, não ausente de energia, ao som das pradarias canadenses. Esta nostalgia que poderia soar artificial em outras mãos soa maravilhosamente autêntica aqui. A nostalgia, alegre e também triste (como é afinal o sentimento nostálgico), de canções como ‘The Painter’, ‘Here For You’, ‘This Old Guitar’, ganha uma beleza incrível na voz sincera (com todos seus defeitos e todo seu caráter orgânico) de Young. Beleza orgânica, humana, que ganha ainda através de letras bonitas, mas sem a menor afetação, de uma profundidade serena (a letra de The Painter é em particular belíssima!).
Há de ser notado aqui também o esmero nos arranjos, que são sofisticados sem estragar a natureza sutil do disco!
Sinceramente, não posso esperar mais nada de um álbum…
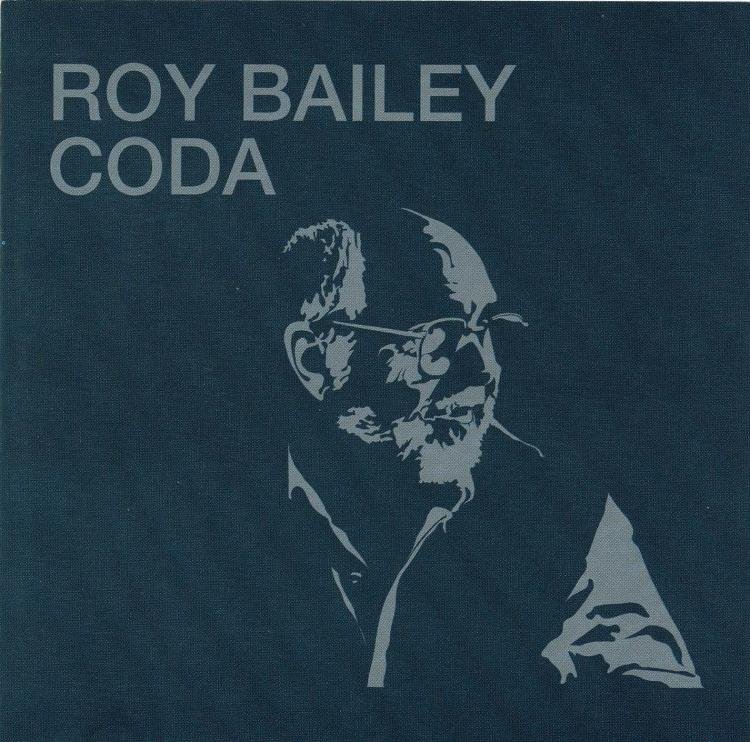
Roy Bailey é uma velha tradição da canção inglesa. Sólido e confiável como uma real ale! Coda, como o nome indica, seria seu último álbum gravado, o que felizmente não se confirmou. De qualquer forma, seu premeditado destino fez deste play algo muito especial. A começar pelos músicos que são uma seleção entre os melhores do folclore e do folk-rock inglês: a Albion Band toca toda aqui, o grande violinista do Fairport Convention , Dave Swarbrick; o fiel escudeiro das gravações de Roy, o grande acordeonista John Kirkpatrick, está novamente presente aqui, entre outros.
Os discos de Bailey constituem sempre de interpretações (Roy professor de sociologia aposentado pela universidade de Sheffield, disse nunca ter tomado um tempo para pensar em compor), interpretações, sobretudo, de canções com alguma relevância política, sejam elas da tradição ou contemporâneas. A seleção de Coda é excelente! ‘Tom Paine’s Bone’ do compositor australiano Graham Moore é sem dúvida a mais interessante música já feita sobre um filósofo. A interpretação de Roy, acompanhado somente de melodeon de Kirkpatrick, não poderia ser mais cativante e poderosa! A clássica ‘Beeswing’ de Roberth Thompson ganha aqui uma belíssima interpretação. ‘Captain Swing’, uma canção tradicional sobre um grupo de camponeses rebeldes na Inglaterra do século XIX (‘Captain Swing’ era o nome fictício em que todos seus membros publicavam artigos!), encontra aqui uma interpretação energética – tanto mais por ser gravada com voz e melodeon apenas!
A música de Roy é, enfim, mesmo como uma boa real ale inglesa, feita com poucos ingredientes, fincada na tradição, vinculada ao povo e inalteravelmente sólida.
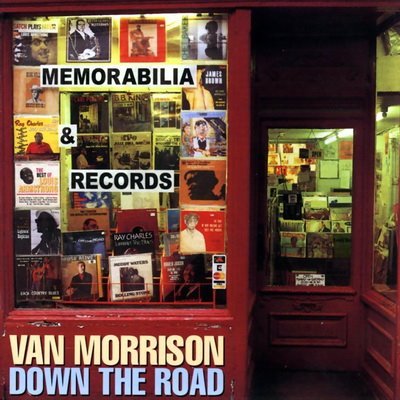
Van Morrison é um dos músicos mais prolíficos da música popular. Ao contrário de seus pares que nos anos sessenta e setenta lançavam um álbum, ou mais , por ano e hoje precavidos contra críticas, ou sem tesão para gravar, lançam álbuns de quando em quando (isto quando gravam), Morrison grava um álbum atrás do outro. Nesta década, por exemplo, ele gravou sete álbuns e mais um álbum ao vivo!
Morrison tem um saco sem fundo de composições (como Toni Iommi tem um saco de riffs) e este álbum, em particular, está concentrado de um excelente número de excelentes canções! Blues incisivos como ‘Chopin’ Wood’ e ‘All Work And No Pay’; canções à la Sam Cooke como em ‘Hey Mr. DJ’; e as usuais bonitas baladas como ‘Steal My Heart Away’ e ‘Only a Dream’ (que não canso de ouvir!).
Não há muito novo a que possa falar de Van Morrison, ele continua fazendo seu trabalho, coloca uma loja de discos na capa e lança sempre que pode aquilo que gosta de tocar e aquilo que tem de dizer…é como um AC/DC, mas dos dias antes do rock’n’roll que é o tempo que interessa, de fato, a Morrison.

Rufus como já se propagou por aí é um grande herdeiro dos grandes nomes da canção, canção que bebe em sua música da grandiosidade (do glamour Rufus, diria) da ópera , das sofisticações das canções de Schubert (que Rufus sabiamente foi resgatar) assim como do pop oitentista e contemporâneo.
O que particularmente me agrada na música do Rufus é que além da sofisticação de sua música, dos arranjos grandiosos, por trás inclusive do caráter irônico e bem humorado que Rufus trata a si mesmo (e brinca com os arquétipos de seu homossexualismo), há algo bem fundamentado e ‘verdadeiro’. Por exemplo, suas canções funcionam perfeitamente bem sem os grandiosos arranjos dos discos, apenas piano e voz (como foram seus excelentes shows por aqui). Outro ponto é que por trás de todo espetáculo gay (ver os espetáculos irônicos transformistas de seus últimos shows rs.), há um cara bastante ciente do mundo em que vive e cujas letras, para quem se importa em notar, reflete isto.
Want One creio que seja o disco mais equilibrado de Rufus, com a grandiosidade irônica de ‘Oh What a World’ e ‘Go Or Go Ahead’ em contraponto à simplicidade, através dos riffs de piano característicos da música de Rufus, como em ‘Vibrate’ ou ‘Natasha’, temos ainda face folk de 11:11 or Want…além da obra-prima, da canção magnífica, que é 14th Street (talvez minha canção preferida da década, e talvez não só da década!)
Enfim, o que Rufus representa é a esperança daquelas que gostam de canções tal como antes costumava se fazer.

O caldo de música erudita (renascentista, sobretudo), popular e do fado que compõe o som da Madredeus desde os anos oitenta lança discos maravilhosos e únicos. Para mim, no entanto, o caldo atinge o ponto neste álbum de 2005. Sobretudo vejo em Faluas de Tejo, álbum em homenagem a cidade de Lisboa, como o álbum com as mais fortes e cativantes melodias produzidas pela banda. Cativa imediatamente os bonitos refrões de ‘Lisboa Rainha Do Mar’, ‘Fado Das Dúvidas’, ‘Névoas da Madrugada’. Temos espaço aqui ainda para uma citação da bossa nova em ‘O Canto da Saudade’.
Temos neste álbum a consagrada formula da Madredeus (que se encontra hoje em outra fase em companhia da banda cósmica e sem Teresa Salgueiro) concentrada na produção de cativantes canções. Play encantador este!
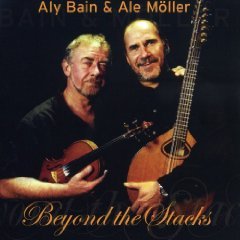
O violinista Aly Bain, nascido nas Ilhas Shetlands ao norte da Escócia, é mais famoso por seu duo com o excelente acordeonista da música tradicional escocesa Phil Cunnigham, assim como é famoso por seus documentários e programas na televisão britânica (entre eles o Transatlantic Sessions que une músicos da tradição britânica e américana, programa que, em sua primeira edição incluía um adolescente, Rufus Wainwright, lembrando que os pais de Rufus vieram desta tradição do folk britânico!), a colaboração de Bain com o sueco Ale Möller é mais esporádica: Beyond The Stacks é o segundo álbum da dupla.
O que , para mim, é, sobremaneira, especial em sua dupla com Möller é o modo que Bain faz encontrar seu elegante violino das Shetlands com as tradições escandinávias de Moller e sua mandola (que é como um grande bandolim!). De fato, o lado escandinavo da música das Shetlands (que foi colônia escandinávia em alguns pontos de sua história) aflora neste álbum, a elegância pastoral do violino de Aly Bain encontra sua perfeita harmonia nas escalas menores, na melancolia por hora serena, por hora mesmo obscura, da música tradicional sueca. Temos aí um dialogo perfeitamente harmonioso entre estas duas belíssimas tradições musicais.
O repertório deste Beyond The Stacks, assim como o, igualmente excelente, primeiro play da dupla Fully Rigged, navega entre as melodias tradicionais das Shetlands, como Daa Broon Coo (sim, The Brown Cow no dialeto da Ilha!), irlandesas, como O’Farrel’s welcome to Limerick, escocesas continentais como Lady Mary Ramsay, e ainda polskas e marchas suecas como ‘King Kar’s marsch; Djavulspolska’ (a polca do diabo!). Entre todas as belíssimas, fortes, melancólicas, sutis e “escuras” peças que compõem o álbum destaco, como talvez a minha melodia preferida em toda tradição musical (não consigo chegar a outro veredicto a ouvindo!!!) o lamento otimista de ‘Crying Waltz’ (a valsa chorosa de coloração escandinava) em que Möller envia suas mágoas para longe em sua gaita de boca acompanhada do violino de Bain…ora, não precisava nos fazer chorar de fato!
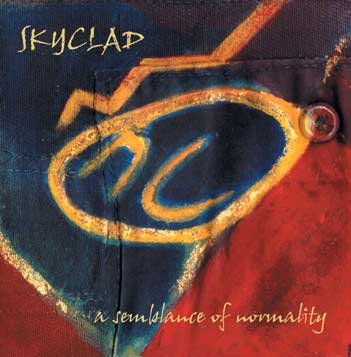
Skyclad é para mim a léguas de distancia banda mais inteligente e elegante do heavy metal. A banda consegue de fato ser ‘rica’ sem se esforçar para tanto, sem precisar escrever canções com longas e complexas passagens instrumentaisd. O clad tira sua força é do lugar único que ocupa sua mistura de heavy metal e música britânica e da inteligência sem afetações dos dois letristas que por ela passaram.
Este play é o primeiro sem o seu carismático cantor e excelente escritor que é Martin Walkyier, no entanto, ao menos no que me diz respeito, o Clad teve imensa sorte de conter em seu guitarrista e produtor de vários anos, Kevin Ridley, com um vocalista eficiente, e o que é mais surpreendente, com um excelente letrista.
Este é junto com ‘The Answer Machine’ o álbum mais ousado da banda, contando com participação de uma orquestra em “Do They Mean Us” (um interessante questionamento sobre identidade inglesa), assim como das gaitas-de-fole tradicionais do norte da Inglaterra, da região donde vem a banda, as Northumbrian-pipes. Ousado como em seus arranjos o álbum é ainda um bom apanhando de excelentas canções pesadas. Destaques são para a divertida e pesada ‘Another Drinkin Song’ (um ode à bebida e a filosofia de boteco, que Ridley convenientemente denomina em inglês: “bar stool philisophy”!), para o refrão tipicamente cladiano de ‘A Parliament of Fools’ (as letras destas não precisam de comentários), e a jig-metal de ‘A Song-Of-Non-Involvement’ (irônica letra sobre o esquecimento de nossos deveres de cidadão – em tempo tão morto, burocratizado, politicamente como o nosso, quem é que por horas não tem vontade de mandar tudo para a pqp ?!).
Enfim, este play, de fato, leva adiante a tradição da música que o Skyclad vem fazendo desde o meado dos anos 90. A banda lançou outro ótimo play em 2009 (In the…All Together) e para mim, continua sendo, de longe, o que o metal produz de mais inteligente e elegante!
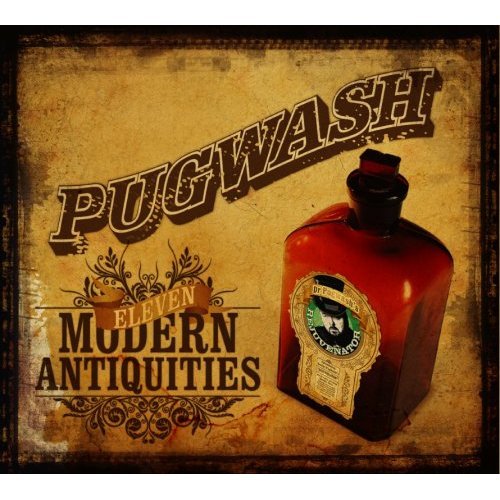
A primeira vez que ouvi esta injustiçada banda irlandesa, foi um alegre choque. Alguém para puxar o fio donde Andy Partridge do XTC o deixou! Pugwash, e seu compositor Thomas Walsh, não possuí a inteligências, sarcástica, porém atenta, de Andy Partridge, e também de seu fiel escudeiro Colin Moulding, mas em termos de canções cativantes e ao mesmo tempo bem construídas Walsh está em absoluta igualdade.
Tanto é fato esta filiação do Pugwash ao XTC que hoje a banda é contratada pela APE Records de Andy Partridge, e neste play, Eleven Modern Antiquities de 2008, Partridge compôs em conjunto com Walsh duas canções ‘My Genius’ e a divertida xtciana At The Sea. Navagando além das influências de XTC (que é ao mesmo tempo influencia da tradição de Beatles e Beach Boys) está a face ELO dos irlandeses, é da fonte de Jeff Lynne que Walsh tira a força melódica de uma ‘Take Me Away’.
Assim como Rufus Wainwright, Walsh e o Pugwash é uma promessa de que poderemos envelhecer com boas canções enraizadas na tradição…com boas antiguidades modernas!
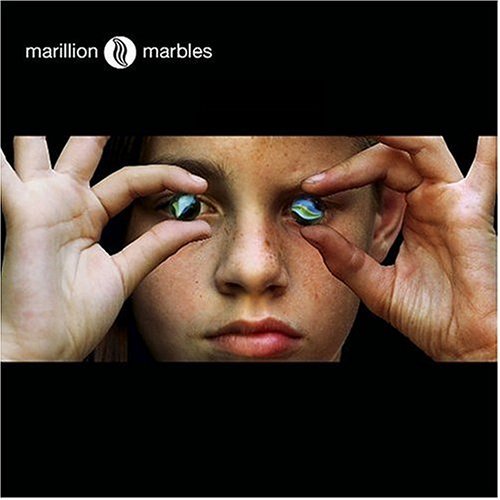
Como última menção escolho Marbles do Marillion. O Marillion é uma banda que apesar da má vontade de alguns críticos hypes, conseguiu envelhecer muito bem. É uma banda que sabe denominar como ninguém a gramática das emoções, tanto em canções mais simples como sãos as cativantes “Genie” e “Don’t Hurt Yourself”, que se engrandecem também com as letras simples, porém eloqüentes e justas de Steve Hoghart, quanto nas longas canções progressivas, que neste Marbles o Marillion faz melhor do que ninguém. ‘Invisible Man’, ‘Ocean Cloud’ e a já clássica ‘Neverland’ são exemplos de como dissolver canções em diversos minutos sem tornar estes minutos longos, sem que a canção perca seu centro, sem que ela deixa de cativar. Não há nada mais de “cópia de Gênesis” aqui, não há nada de especialmente nostálgico aqui, há sim uma banda que atingiu grande domínio daquilo que faz: despertar emoções, interpretar letras positivas ou dramáticas sem se tornar banal!
![M.O.V.I.N [UP]](https://revistamovinup.com/wp-content/uploads/2019/03/Cultura-além-do-óbvio-Desde-2008.jpg)